Saindo da zona de conforto
 Apoiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as construtoras brasileiras ampliaram em mais de 1.000% a atuação no exterior na última década. Entre os anos de 2000 e 2010, o volume de crédito do BNDES para as obras realizadas por essas empresas na América Latina e África saltou de US$ 73 milhões para US$ 937 milhões anuais. Em 2011, a estimativa é que os financiamentos do banco tenham atingido a faixa de US$ 1,3 bilhão, consolidando a engenharia brasileira como um importante item da pauta de exportações.
Apoiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as construtoras brasileiras ampliaram em mais de 1.000% a atuação no exterior na última década. Entre os anos de 2000 e 2010, o volume de crédito do BNDES para as obras realizadas por essas empresas na América Latina e África saltou de US$ 73 milhões para US$ 937 milhões anuais. Em 2011, a estimativa é que os financiamentos do banco tenham atingido a faixa de US$ 1,3 bilhão, consolidando a engenharia brasileira como um importante item da pauta de exportações.
Além de engordar a balança comercial do país, a internacionalização dessas empresas contribui para o aprimoramento profissional dos engenheiros brasileiros. Ao adquirir contato com novas culturas, habitats e visões de mundo, esses profissionais incorporam uma visão globalizada indispensável para a realização de negócios no mercado internacional. Sua bagagem também é enriquecida com experiências geralmente associadas a histórias pitorescas ou situações inesquecíveis.
O diretor responsável pela área de equipamentos da Odebrecht no Peru, Luiz Cezário de Souza, é um bom exemplo disso. A sua primeira experiência internacional data do começo da década de 1990, quando atuou por quatro anos na construção da hidrelétrica de Capanda, em Angola, sob o impacto da guerra civil que então assolava o país (entre 1975 e 2002). “Nesse cenário de deficiência logística, não importávamos apenas os equipamentos e peças de reposição, mas absolutamente tudo consumido no canteiro, desde palitos de dentes até água potável”, ele recorda.
Longe de tudo e de todos
Como o canteiro ficava isolado de centros urbanos, como Luanda, a capital angolana, e a oito horas de vôo do Rio de Janeiro, a construtora criou uma vila residencial para abrigar os profissionais da obra, muitos deles com suas famílias. Essa vila era dotada de toda a infraestrutura, desde clubes de lazer a colégios e centros de compras. “Chegávamos e saíamos da área do alojamento somente de avião”, lembra Cezário. “Por questão de segurança, as aeronaves sobrevoavam a área do canteiro até atingir a altura de vôo e o mesmo procedimento era adotado no trajeto inverso, de Luanda para o canteiro. Era uma verdadeira operação de guerra.”
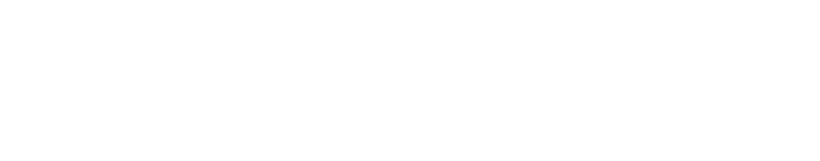
 Apoiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as construtoras brasileiras ampliaram em mais de 1.000% a atuação no exterior na última década. Entre os anos de 2000 e 2010, o volume de crédito do BNDES para as obras realizadas por essas empresas na América Latina e África saltou de US$ 73 milhões para US$ 937 milhões anuais. Em 2011, a estimativa é que os financiamentos do banco tenham atingido a faixa de US$ 1,3 bilhão, consolidando a engenharia brasileira como um importante item da pauta de exportações.
Apoiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as construtoras brasileiras ampliaram em mais de 1.000% a atuação no exterior na última década. Entre os anos de 2000 e 2010, o volume de crédito do BNDES para as obras realizadas por essas empresas na América Latina e África saltou de US$ 73 milhões para US$ 937 milhões anuais. Em 2011, a estimativa é que os financiamentos do banco tenham atingido a faixa de US$ 1,3 bilhão, consolidando a engenharia brasileira como um importante item da pauta de exportações.
Além de engordar a balança comercial do país, a internacionalização dessas empresas contribui para o aprimoramento profissional dos engenheiros brasileiros. Ao adquirir contato com novas culturas, habitats e visões de mundo, esses profissionais incorporam uma visão globalizada indispensável para a realização de negócios no mercado internacional. Sua bagagem também é enriquecida com experiências geralmente associadas a histórias pitorescas ou situações inesquecíveis.
O diretor responsável pela área de equipamentos da Odebrecht no Peru, Luiz Cezário de Souza, é um bom exemplo disso. A sua primeira experiência internacional data do começo da década de 1990, quando atuou por quatro anos na construção da hidrelétrica de Capanda, em Angola, sob o impacto da guerra civil que então assolava o país (entre 1975 e 2002). “Nesse cenário de deficiência logística, não importávamos apenas os equipamentos e peças de reposição, mas absolutamente tudo consumido no canteiro, desde palitos de dentes até água potável”, ele recorda.
Longe de tudo e de todos
Como o canteiro ficava isolado de centros urbanos, como Luanda, a capital angolana, e a oito horas de vôo do Rio de Janeiro, a construtora criou uma vila residencial para abrigar os profissionais da obra, muitos deles com suas famílias. Essa vila era dotada de toda a infraestrutura, desde clubes de lazer a colégios e centros de compras. “Chegávamos e saíamos da área do alojamento somente de avião”, lembra Cezário. “Por questão de segurança, as aeronaves sobrevoavam a área do canteiro até atingir a altura de vôo e o mesmo procedimento era adotado no trajeto inverso, de Luanda para o canteiro. Era uma verdadeira operação de guerra.”
Em 1992, quando já atuava há quase dois anos na obra, Cezário tornou-se refém de guerrilheiros angolanos, para os quais serviu como motorista por três dias, até ser libertado. “A guerrilha angolana, diferentemente da existente em outros países, como a Colômbia, seguia uma orientação exclusivamente de contestação política.” Por esse motivo, ele explica que não sofreu torturas, pois os prisioneiros eram usados apenas como moeda de troca para a libertação de guerrilheiros capturados pelo exército angolano.
Na obra da hidrelétrica, que mobilizava cerca de 600 equipamentos, incluindo três centrais de concreto, duas linhas de britagem e uma para a fabricação de areia, entre outras instalações fixas, o planejamento e logística eram requisitos fundamentais para manter a frota em operação. “O canteiro ficava a mais de 400 km de Luanda e todo o suprimento chegava por terra em grandes comboios”. O péssimo estado de conservação das estradas completava o quadro de dificuldades.
Cezário recorda que os comboios, denominados pelos angolanos como “colunas”, eram compostos por cerca de 15 a 20 carretas escoltadas por tropas do exército nacional, que acompanhavam o carregamento em pelo menos 10 veículos militares off-road (os Unimogs). “Recebíamos entre duas e três colunas semanalmente no acampamento”, ele afirma. O dimensionamento do estoque de peças e demais insumos mobilizados nas oficinas também exigia planejamento afinado, pois as encomendas demandavam de quatro a seis meses de tempo de espera. “Em situações de emergência, elas vinham por via aérea, mas não podíamos nos dar ao luxo de deixar o estoque de peças acusar a falta de um item, pois isso poderia comprometer o andamento da obra”.
Cuidados com a guerrilha
A experiência adquirida em áreas sujeitas a ataques de guerrilheiros auxiliou Cezário durante a atuação em obras na Colômbia, onde participou da construção de uma ferrovia e um gasoduto, além de comandar posteriormente uma central de equipamentos. “Depois, construímos uma hidrelétrica em condições bem interessantes pela questão logística, pois todo o transporte até a obra envolvia a travessia de cordilheiras, com uma velocidade de avanço muito baixa devido à sinuosidade das estradas da região”, diz ele.
A ação dos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), que regularmente interrompiam o acesso aos canteiros e a chegada de suprimentos, representava mais um desafio logístico a ser superado. Cezário explica que, ao contrário dos combatentes angolanos, os colombianos pautavam suas ações por interesses mercantis, de modo que uma apreensão resultava em sequestro de no mínimo 60 dias até que a família recebesse o primeiro contato com o pedido de resgate. “E isso acompanhado de um processo de negociação sempre muito longo, podendo estender o período de cativeiro a mais de um ano.”
Apesar desse complicador, ele destaca que o mercado colombiano apresenta grande oferta em serviços de peças e assistência técnica, o que facilitava seu trabalho de manutenção da frota de equipamentos. “Nesse quesito, a Colômbia pode ser comparada com o Brasil e ainda oferece outras facilidades, como uma legislação flexível à admissão temporária de equipamentos, que pode ser realizada por até cinco anos, mesmo com máquinas usadas”, ele afirma.
Atualmente, Cezário acrescenta ao seu currículo a experiência de atuar em outro país da América do Sul. Nos últimos seis anos ele responde pela área de equipamentos em grandes obras de infraestrutura no Peru. O portfólio inclui desde a “Estrada para o Pacífico” (IIRSA Sul – 700 km de construção), que conecta o Peru ao Brasil pela fronteira do Acre, até a rodovia IIRSA Norte, passando ainda pela obra do Porto de Melchorita e outros projetos. “Atualmente, a Odebrecht trabalha na construção de uma estrada que contempla a implantação do túnel rodoviário mais alto do mundo, a 4,8 mil metros de altitude”, diz ele.
Problemas com a altitude
Assim como Cezário, Silvimar Fernandes Reis, superintendente de logística e suprimentos da Galvão Engenharia, conhece bem as adversidades enfrentadas nas obras em altitudes elevadas. “A primeira regra é que os equipamentos sejam adaptados para essa condição de operação”, ele adianta. Esse procedimento é necessário porque a engenharia construtiva de cada subconjunto da máquina, como o motor, responde de forma diferente em relação ao ar rarefeito encontrado em altitudes elevadas. “Mesmo quando aspirado, o motor perde mais de 30% de potência atuando nessas condições.”
A falta de densidade do ar também inviabiliza a aplicação de equipamentos pneumáticos nas obras em altitudes elevadas. Até mesmo as instalações industriais, como usinas de britagem, sofrem o impacto nessas condições de trabalho, pois seus motores elétricos também acusam perda de potência. “Alguns fabricantes especificam que a cada 100 m de altitude em relação ao nível do mar é necessário especificar 1cv a mais de potência de motor para atingir a potência requerida na operação”, ele explica.
A experiência internacional de Silvimar Reis, entretanto, não se limita às adversidades impostas pela altitude. Sua bagagem de obras no exterior começou a ser acumulada na década de 1980, quando o especialista morou no Iraque e atuou na construção de uma ferrovia ligando Bagdá, a capital do país, à cidade de Alkashat, na divisa com a Síria. “O detalhe é que naquela época o Iraque estava em guerra com o Irã e essa ferrovia tinha 480 km de extensão, nos deixando bastante vulneráveis às trincheiras de batalha”, diz ele.
Adaptação cultural
A variação de temperatura representava uma dificuldade à parte nessa obra. O especialista relata variações de mais de 50 C°, na sombra, a 5 C° negativos nos períodos noturnos. “No calor, as máquinas sofriam com superaquecimento e no frio, com o congelamento do líquido arrefecedor.” Sob tais condições, ele diz que esse período representou uma a experiência profissional enriquecedora em sua carreira, pois trabalhava com os equipamentos mais sofisticados do mundo na época. “Algumas tecnologias, como os guindastes repletos de sensores e as centrais de concreto automatizadas, chegaram ao Brasil somente 15 anos depois.”
A diversidade cultural também exigia maleabilidade dos profissionais brasileiros. Silvimar Reis, assim como os demais especialistas ouvidos pela reportagem, estabelece que a operação no exterior está condicionada primeiramente à adaptação à cultura local. “As empresas devem realizar um trabalho de aclimatação com os seus profissionais antes de enviá-los para obras no estrangeiro. Ele diz que esse treinamento precisa contemplar principalmente as questões culturais do país de destino, como a alimentação e dialetos, “algo a que todos terão de se adequar durante a operação”.
O idioma foi justamente uma das dificuldades enfrentadas pelo especialista durante sua permanência no Iraque. Além da dificuldade natural em relação à língua árabe, ele lidava com profissionais de diversos locais do mundo, o que levou o canteiro a desenvolver um dialeto próprio, apelidado de “Mendes”. “Era uma mistura de inglês, francês, árabe, português e outras línguas que, em uma única frase, podia mesclar mais de cinco idiomas.”
Enfrentando canibais
Do Iraque, ele seguiu para a Tanzânia, onde enfrentou outro tipo de desafio no que tange às adversidades no canteiro de obras. Após voltar do período de férias sequencial ao término da obra da ferrovia iraquiana, o especialista recebeu a proposta de outra construtora para atuar na construção de uma rodovia no país da África Oriental. “A estrada tinha 260 km de extensão e ligava as cidades de Morogoro e Dodoma, que viria a ser a capital do país”. A adversidade, desta vez, era a selva africana.
O acampamento central da obra ficava em meio à mata nativa. Além disso, sua localização viabilizava a contratação de mão de obra em apenas uma tribo a população do país é dividida em tribos que ocupam regiões específicas – que ainda preservava hábitos nômades. “Devido ao traço cultural desse povo e sua dificuldade de adaptação ao ritmo ocidental, eles apresentavam uma limitação de aprendizado que nos obrigava a destinar tarefas específicas para cada contratado. Se o individuo era treinado para trocar cabeçote, não adiantava tentar aproveitá-lo para trocar uma bomba injetora. Era preciso treinar outro para essa função”, afirma.
Devido aos resquícios da colonização britânica, Silvimar Reis conta que os nativos da Tanzânia ofereciam grande resistência a orientações ou instruções de profissionais originários de outros países, tidos como colonizadores. “Minha sorte é que, como brasileiro, desfrutava de maior receptividade junto aos nativos e isso facilitava a comunicação. Aliás, o fato de ser brasileiro geralmente ajuda na criação de uma empatia com outros povos, pois somos geralmente bastante admirados.”
Silvimar lembra que essa facilidade foi decisiva no último trecho da obra, em uma região habitada por uma tribo de difícil comunicação e adepta de práticas canibais. “Tivemos que pedir autorização ao governo para levar os operários da tribo nômade que vinham nos acompanhando para atuar nessa frente de operação, porém isso exigia uma vigilância permanente para evitar que eles fossem vitimados pelos nativos canibais.” Devido à aversão tanzaniana a regras impostas por ocidentais, esse controle tornou-se viável apenas em função do respeito aos brasileiros. Segundo o especialista, as povos canibais, por costume, só praticavam os rituais com as tribos locais.
Antecipando imprevistos
Francisco de Souza Neto, superintendente de equipamentos da Queiroz Galvão, também teve experiências atuando em locais selvagens. No seu caso, o cenário era a altitude e a selva bolivianas, onde a severidade da operação impunha cuidados especiais à manutenção dos equipamentos. “O desmatamento em florestas densas é muito agressivo para o sistema de arrefecimento do motor, pois a entrada de folhas e de pequenos galhos no cárter, no radiador e em outros componentes acaba dificultando a troca de calor e levando ao superaquecimento do motor.” Por esse motivo, em tais condições o especialista recomenda a criação de uma equipe exclusiva para a limpeza do radiador e demais componentes do sistema.
 Francisco Neto já morou com sua família durante seis anos em outros países latino-americanos, onde continuou atuando na área de equipamentos. Entre idas e vindas para atuar em projetos no exterior, ele soma mais de 10 anos de experiência em obras internacionais e, com tamanha bagagem, recomenda que os engenheiros mais jovens aproveitem oportunidades como essa para lidar com culturas diferentes. “Tecnicamente, o fundamental é fazer uma pesquisa sobre o local de destino para ter um conhecimento prévio dos recursos que o profissional terá disponível em termos de peças e suporte à manutenção.”
Francisco Neto já morou com sua família durante seis anos em outros países latino-americanos, onde continuou atuando na área de equipamentos. Entre idas e vindas para atuar em projetos no exterior, ele soma mais de 10 anos de experiência em obras internacionais e, com tamanha bagagem, recomenda que os engenheiros mais jovens aproveitem oportunidades como essa para lidar com culturas diferentes. “Tecnicamente, o fundamental é fazer uma pesquisa sobre o local de destino para ter um conhecimento prévio dos recursos que o profissional terá disponível em termos de peças e suporte à manutenção.”
Essa pesquisa, segundo ele, evita improvisos diante de imprevistos ou situações incomuns no Brasil. Exemplo disso são as operações em locais cuja temperatura, inferior a 0 C°, pode congelar o combustível quando a máquina está parada. “Nesses casos, umas das técnicas é adicionar querosene ao óleo diesel para evitar esse fenômeno”, diz ele. O diesel, segundo Francisco Neto, possui parafina em sua composição, um material que, quando exposto a baixas temperaturas, tende a ficar pastoso e a obstruir o sistema de injeção. “O querosene age contra essa solidificação do combustível”, ele explica.
Lições da experiência
Francisco Neto explica que, nas situações em que adicionou querosene ao combustível, um estudo técnico ajudou a identificar previamente a porcentagem a ser utilizada, de forma a obter maior eficiência na combustão e evitar danos aos componentes do motor. “Na Bolívia, onde trabalhamos em altitude de até 4,2 mil m e com temperaturas abaixo 0 C°, vencemos outra adversidade envolvendo o uso de querosene.” Ele explica que, como esse material também é utilizado para o refino de drogas, sua venda é submetida a controle em território boliviano e requer autorização do exército.
Nas obras realizadas no altiplano boliviano, onde predominam temperaturas muito baixas, o especialista ressalta que a própria rotina de manutenção era diferente. Nesse caso, uma equipe ficava responsável por colocar os equipamentos em funcionamento durante a madrugada, de forma a evitar paradas longas e o consequente congelamento dos fluidos. “Chegamos a essa decisão depois de tentarmos outras soluções, como a drenagem desses líquidos depois do turno de trabalho e sua reposição no dia seguinte.” Ele explica que a água, quando congelada, além de impedir o funcionamento da máquina, sofre uma expansão que resulta em trincas de peças como os cabeçotes.
Francisco Neto, assim como Silvimar Reis e Luiz Cezário, integra um grupo de profissionais experientes na área de equipamentos, que contribuem para a eficiência e competitividade das construtoras brasileiras no exterior. Em seus depoimentos à revista M&T, eles não relataram somente suas experiências profissionais em terras distantes. Um tanto além, eles também demonstraram que a eficiência e flexibilidade dos brasileiros fazem a diferença na disputa pelos concorridos contratos no mercado internacional.

Av. Francisco Matarazzo, 404 Cj. 701/703 Água Branca - CEP 05001-000 São Paulo/SP
Telefone (11) 3662-4159
© Sobratema. A reprodução do conteúdo total ou parcial é autorizada, desde que citada a fonte. Política de privacidade






















